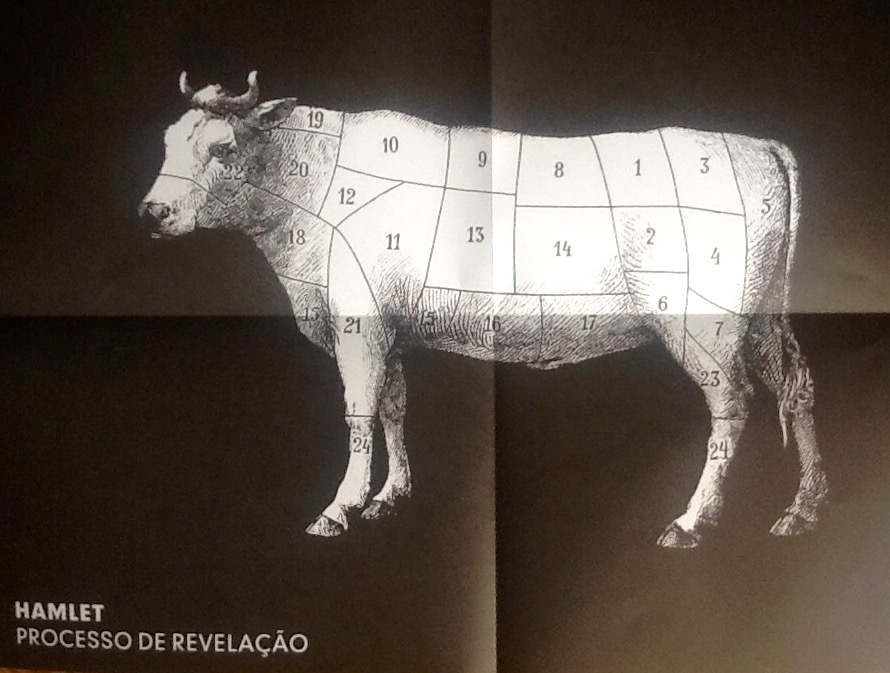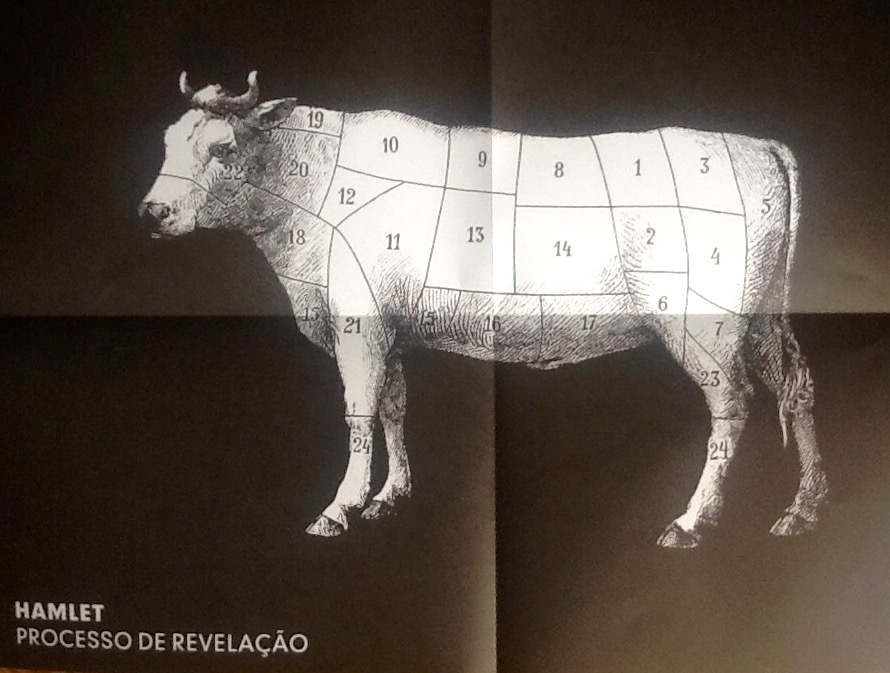Crítica da peça Arqueologias do presente – A batalha da Maria Antônia do grupo Opovoempé
X Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo 2015
A citação que intitula esse texto é um comentário do programa da exposição de Tadeusz Kantor, atualmente em cartaz no Sesc Belenzinho, a que tive oportunidade de assistir logo antes da apresentação de Arqueologias do presente – A batalha da Maria Antônia do grupo Opovoempé na Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo. Menciono aqui a exposição não apenas para contextualizar a citação, mas para lembrar que a recepção de uma obra é sempre trabalhada pela sua poética. O estado do corpo em uma exposição que nos interessa é uma mistura interessante de atenção e distração. O início desse trabalho do Opovoempé opera a passagem para esse estado.
O espaço cênico é formado por mesas, painéis, paredes e um espaço vazio, com o número 68 no centro de uma forma circular, em referência ao ano de 1968. Os painéis contêm frases que enquadram os tópicos propostos com documentos de diferentes procedências: cópias de matérias de jornal, artigos publicados nos anais da AMPUH, monografias, impressos de páginas na Internet, projetos de lei, um mapa cujas ruas devem ser renomeadas, etc. Nas mesas, jogos e outros documentos como livros e dispositivos de áudio com fones de ouvido para cada um ler ou escutar gravações de discursos ou depoimentos acerca da ditadura militar no Brasil e da situação análoga em outros países latino-americanos.
Entre os livros, me chamaram a atenção os de Educação Moral e Cívica em uma mesa que lembra uma mesa de professor na sala de aula, com aquela típica bandeirinha do Brasil. Sobre a mesa, uma sinalização que dizia algo como “Criança Anos 70”. Tendo nascido em 1976, me lembro de ter aula de Moral e Cívica, mas não me lembrava do conteúdo dessas aulas. Em dois livros, encontrei narrativas – pretensamente históricas – sobre índios. Em um deles, uma narrativa praticamente eliminava os índios do Brasil, falando deles no pretérito: “O índio, que era o homem primitivo do Brasil, vivia, na oportunidade da descoberta deste, no regime da mais rudimentar cultura, aproximando-se esta, da Idade da Pedra.” Tirei uma foto da página para não esquecer, mas não tenho a referência bibliográfica.

Acima, dei ênfase ao fato de que se tratam de narrativas “pretensamente” históricas porque a premissa básica da escrita da história é o compromisso com a verdade. Só que não em países que sofreram processos ditatoriais. Nesses casos, a história, bem como parte significativa do jornalismo, serve para criar ficções de acordo com interesses específicos. O trabalho do grupo Opovoempé me aprece apresentar a ideia da construção deliberada de discursos mentirosos ao oferecer essas evidências para o espectador encontrar de uma forma que prescinde de qualquer estratégia de convencimento.
Depois de um tempo em que os espectadores estão no espetáculo como se estivessem em uma exposição ou em uma sala de jogos, um dos atores inicia um jogo em que os espectadores respondem a perguntas ao se deslocar no espaço, de acordo com o grupo a que pertencem. Por exemplo: o ator propõe que quem nasceu antes de 1964 deve ficar no ponto X e quem nasceu depois, no outro X. Assim, com algum humor, vai se apresentando uma espécie de cartografia da formação do público. Com esse movimento, os espectadores trocam olhares, riem, às vezes aplaudem o outro grupo ou o reprimem em tom de brincadeira. Os atores administram o tempo das propostas com tranquilidade e com isso o público vai se adequando ao tempo de permanecer, que também é o tempo de escutar. Até que parte do elenco começa a narrar os fatos da Batalha da Maria Antônia. Eles estão com fones de ouvido e falam na medida em que escutam depoimentos gravados. A preparação do ritmo interno do espectador me parece bem eficaz, embora tenha ficado com a impressão de que o público, no dia da apresentação que eu vi, estava excessivamente tímido para a proposta da peça.
Os criadores de Arqueologias do presente se propõem um risco real quando optam por fazer a temperatura do espetáculo depender bastante do público de cada dia. Para o bem ou para o mal das apresentações isoladamente, é interessante que a poética do espetáculo tenha essa dimensão de risco e essa abertura concreta para o trajeto de pensamento que o espectador vai percorrer.
De qualquer modo, penso que a forma como a peça lida com o espectador é exemplar do desejo de convívio e partilha que o trabalho propõe. Até nos momentos em que um ou outro ator faz uma pergunta diretamente para um espectador, o tom é de conversa, não de interrogatório nem de desafio. A relação é sempre horizontal. Mesmo quando eles tomam a palavra para dar os depoimentos, a fala é entre iguais, sem pretensão de autoridade.
Vejo duas formas documentais distintas na peça. A primeira é composta pelos objetos, por coisas materiais, por imagens e textos impressos. A outra é feita de vozes, depoimentos falados, entonações, expressões físicas do corpo, pessoas reais. É como se a peça nos convidasse a escutar a história de outra maneira, convocando uma humanidade, um corpo a corpo para esse processo.
Em determinado momento, um dos atores perguntava qual era o X da questão, indagando o porquê das coisas estarem como estão. Talvez seja possível responder que há um vício tautológico geral de dizer que as coisas estão assim porque sempre foram assim. E o que vemos com essa e outras peças que buscam formas singulares de lidar com a história é, primeiramente, o obvio: que o país em que vivemos agora é o resultado do projeto de cinco décadas atrás. Mas a peça também sugere que a força da memória pode ser a de entender que se as estruturas que (ainda) cultivam a violência e a ignorância são uma construção, também podemos acreditar na sua desconstrução e trabalhar por ela.